2. Um Homem e uma Máquina Entram num Bar…
- Miguel João Ferreira
- 13 de nov. de 2017
- 7 min de leitura
Chegamos então ao complemento do título desta espécie de ensaio: “Um Homem e uma Máquina entram num bar”… Que se diriam se se encontrassem ao balcão? Como poderiam interagir um com o outro? Talvez se dissessem como na canção de Paul Simon:
«— [You] can call [me] Betty.
— And Betty when you call me / You can call me [H.AL.]».
Talvez. Mas em vez de especularmos sobre como seria o seu encontro, poderemos tirar melhores ilações se observarmos alguns dos encontros mais ou menos imediatos (de diferentes graus) que Homem e Máquina tiveram ao longo dos anos, neste curioso Bar Intergaláctico a que chamamos Terra. Antes porém de falarmos da relação entre os dois, devemos responder às perguntas:
1. O que é um Homem?
2. O que é uma máquina?
A primeira pergunta esteve sujeita a séculos de filosofia sem grandes resultados práticos. Multiplicam-se teorias e dúvidas ontológicas como o “Hamletiano” «to be or not to be — that is the question» (Hamlet, Act III, Scene I); e essas multiplicações não nos trazem conclusões satisfatórias ou resultados que a Matemática explique ou que a Informática consiga computar.
O que é então um Homem? Do latim Homo-Hominis (chega-nos pelo acusativo Hominem); adquire genericamente o significado de «qualquer indivíduo pertencente à espécie animal que apresente maior grau de complexidade na escala evolutiva» (Dicionário Aurélio de Língua Portuguesa). Esta estranha definição corre o risco de deixar muitos Homens de parte.
Já de acordo com a Antropologia física, mais precisa, como se pede à Ciência, trata-se de um vertebrado, pertencente à classe dos Mamíferos, subclasse dos Placentários, da ordem dos Primatas, família dos Hominídeos, género Homo, que se encontra representado na actualidade por uma única espécie, o Homo Sapiens LIN7C [gene], com vários grupos, raças, sub-raças e tipos. Também se define como «o único mamífero de posição vertical, capaz de linguagem articulada, constituindo entidade moral e social» (Enciclopédia Luso-Brasileira de Cultura).
Por seu turno, os filósofos pré-socráticos buscaram o princípio único, o arché (arquétipo) de todas as coisas, voltando-se, nessa procura, para o Universo e o Cosmos. Sócrates preferiu inquirir sobre o próprio Homem, o seu íntimo e o motivo das suas acções. A máxima de Delfos «Conhece-te a ti mesmo» é o seu guia; a maiêutica (significado literal “dar à luz”) o seu método. Daí em diante, nunca mais os filósofos deixaram de indagar sobre o Homem e a sua função na sociedade. A filosofia tornou-se Antropocêntrica, ou seja, fez do Homem o seu centro de discussão. A Ciência tentou fazer o mesmo, mas Niccolò Copernico deitou a ideia por terra em 1543 com a sua Revolução dos Corpos Celestes. Foi a 1ª Revolução do paradigma Homem-Mundo, segundo Luciano Floridi. Debruçou-se então o filósofo sobre questões como “o que é o Homem?”, “Qual sua função?”, “Qual a sua natureza?”, “Qual o seu destino?”, “Qual o seu papel na sociedade e no mundo?”; e para elas encontrou várias respostas, mas nunca a resposta, o seu arché. Haverá, talvez, tantas respostas quanto Homens e o arquétipo não poderá encontrar-se. Senão, veja-se, ecce Homo!:
Quanto ao aspecto físico: é alto e baixo, feio e bonito, gordo e magro; do ponto de vista ético e moral é humilde e orgulhoso, caridoso e egoísta, justo e injusto, virtuoso e viciado, bom e mau (valores jamais absolutos, continuamente perdidos numa zona cinzenta); quanto à interpretação filosófica, é económico (Marx), instintivo (Freud), angustiado (Kierkegaard), utópico (Bloch), falível (Ricœur), hermenêutico (Gadamer), problemático (Marcel), X (segundo Y), ou simplesmente existente (segundo Heidegger); já se quisermos ser místicos na abordagem ao tema, poderemos dizer, como tantas religiões, que o Homem é feito à semelhança de deus (palavra a que se pode atribuir maiúscula ou uma infinita parafernália de nomes, tantos [ou mais] quantos todas as religiões, seitas e derivações alguma vez existentes tiverem para lhe dar. E, à luz deste misticismo, talvez Santo Agostinho tivesse razão quando afirmou na Cidade de Deus “(…) o [H]omem permanece em si mesmo um mistério”.
Parece porém unir consenso a ideia do Homem como animal racional. Pensa, logo existe, a julgar por Descartes (Discurso do Método); se não há verdade nessa dúvida metódica há, pelo menos, na generalidade dos casos, a certeza de que pensa. Quanto mais o Homem exercita a sua inteligência, mais ela se amplia. Como se trabalhasse o bicep com pesos de 15, 20 ou 30 kilos. O que se trabalha evolui. Do simples chegamos ao complexo; do desconhecido ao conhecido que nos leva a outros desconhecidos ainda mais desafiantes, que vão ainda mais longe. Mas nenhum Homem dispõe de todas as faculdades humanas; o Homem está no mundo, mas não é o mundo. É pelo contacto social e pela interacção com o seu meio ambiente que os Homens se completam uns aos outros para assegurarem o seu progresso e bem-estar. Mas quando o Homem falha ou não se basta e às suas necessidades? Ou, simplesmente, quando se cansa de acções rotineiras, de pesos excessivos, de força bruta e precisa de, ainda assim, assegurar ou até aumentar a sua produtividade? Então, um novo elemento aparece, um elemento que, principalmente, desde a revolução industrial, se vê a entrar, mais e mais, na vida do Homem, com mais relevância, mais preponderância, mais força: É a máquina.
A máquina, cada vez mais substitui o Homem nas suas funções; até naquelas que, não há muito tempo, diríamos serem exclusivamente Humanas. No filme Demolition Man (1993, Marco Brambilla), por exemplo (mas a realidade também nos oferece excêntricos casos) Sylvester Stallone e Sandra Bullock têm uma escaldante sessão de sexo… por computador, numa experiência 100% virtual. Com as máquinas aspira-se a casa, acendem-se as luzes, escava-se a terra, demolem-se bairros, fazem-se filmes, viaja-se à lua… Entra-se cada vez mais na Odisseia no Espaço, que já foi muito além de 2001(…). É a máquina a denúncia de que o Homem precisa de se fazer deus? Mas, antes de mais, o que é a máquina? E chegamos à pergunta 2:
Do grego μηχανή (mekhané), derivação de μῆχος (mekhos) — que significa “meio, expediente, remédio” —, é um aparato, constituído por várias partes, cada uma desempenhando uma função específica, que recorre ao poder mecânico para, como um todo, desempenhar determinada tarefa. Máquina é, portanto, um dispositivo que muda o sentido ou a intensidade de uma força por intermédio de energia e trabalho (outra força) para atingir um objetivo predeterminado.
A ideia de uma máquina simples foi criada pelo filósofo grego Arquimedes, no século III a.C.. A alavanca, a polia e o parafuso são descobertas suas (as chamadas máquinas arquimedianas). Mais tarde, Heron de Alexandria (c.I d.C.), no seu trabalho Mecânica, lista os cinco mecanismos que podem colocar uma carga em movimento: alavanca, molinete, polia, cunha e parafuso (as 5 máquinas clássicas) e descreve o seu processo de fabrico e respectivos usos. Ainda máquinas simples (sem dinâmica, comparação entre força e distância, ou o conceito de trabalho), mas, máquinas, não obstante.
As máquinas podem, pois, ser divididas em não automáticas (manuais); ou automáticas. Máquinas não automáticas (ou “de alívio periódico”) são as que precisam da ação permanente do operador para executar o trabalho. Já as automáticas são aquelas cuja energia provém de uma fonte externa (elétrica, térmica, eólica, hidráulica, nuclear, etc.), e que dependem apenas do premir de um botão (ou de qualquer outro processo de activação análogo), para executar o trabalho. Não precisam, portanto, da energia permanente do operador, mas podem precisar do seu controlo. As máquinas automáticas podem ainda ser divididas em não programáveis e programáveis:
A primeira executa sempre o mesmo trabalho ao receber energia. Uma aparafusadora eléctrica dependente do premir de um botão para funcionar, e que não é senão capaz de executar essa tarefa específica é um exemplo de máquina automática não programável. A segunda depende de instruções dadas pelo operador para a execução do trabalho. Um computador ligado a um teclado é um exemplo de máquina automática programável. Foi programada para reconhecer certas instruções e executar certas tarefas — como fazer correr um sistema operativo ou uma aplicação; e para receber também instruções adicionais que permitam certo grau de maleabilidade (por meio de dispositivos de entrada de dados como uma rato ou um teclado), como a navegação pela web ou a redação deste trabalho num processador de texto ou num blog como You Can Call Me H.AL.. Um temporizador (ou um volume) não é elemento que baste para que se entenda uma máquina como programável, visto que, com ele, ela não muda o seu trabalho conforme o ajuste do temporizador (ou do volume), muda apenas o período em que executa o trabalho (ou a intensidade).
Nesta relação, que cresceu ininterruptamente ao longo da História, nem sempre com fins construtivos, como o provam as guerras, a relação Homem-Máquina cresceu, fez-se mais íntima, mais complementar, e, entre Revoluções Industriais (c. 1760-1840) e Revoluções Tecnológicas (por exemplo, na 2ª metade do séc. XX), sofreu vários Booms. Passamos agora, a caminho da segunda década do séc. XXI, por um novo Boom, o da Inteligência Artificial e das Realidades Virtuais e Aumentadas (a 4ª Revolução segundo Floridi) que, ainda que devagar, nos vão, cada vez mais frequente e consistentemente, entrando em casa. Delas falaremos. Mas, entre esses Booms e essas fases há uma evolução que, por agora, nos interessa em particular: a do computador. De onde e como surgiu esta estranha máquina, que nestes dias governa o nosso Mundo? Que nos dá a sensação de, se a perdermos e às coisas que ela rege, regrediremos de novo até à Idade da Pedra? Ou até àquela altura antes dela, representada por Kubrik no seu 2001, em que éramos todos pouco mais que verdadeiros primatas? E, se foi daí que de facto viemos, e viemos, pelo menos, de muito, muito longe, como chegámos ao Homo Computatrum?
(Artigo de: Miguel João Ferreira)
——————————————————
Luciano Floridi, no seu livro a 4ª Revolução e numa série de Conferências, aponta 4 períodos fundamentais em que o Homem perde protagonismo na sua visão do Mundo e se depara com situações de quebra de paradigma e redução da sua escala de grandeza: na 1ª, a visão Antropocêntrica, o Homem como centro do Universo, é abalada quando, em 1543, Copernico, depois seguido por Galileo, demonstra, apesar da feroz oposição eclesiástica, a teoria Heliocêntrica — o sol, não o Homem, é o centro do Universo, em torno do qual giram os planetas (pelo menos os da nossa Galáxia; a 2ª Revolução / quebra de paradigma chega com Darwin e The Origin of Species, 1859: o Homem já não é o senhor incontestado, imaculado e elevado do Reino animal, proveio afinal dos primatas. A 3ª Revolução chega com Freud, em 1923, com a sua obra perturbadora Das Ich und das Es (o Eu e a Coisa — que estamos habituados a chamar Id), em que mostra que o Homem já não é pleno Sr. das suas faculdades mentais, há elementos inconsciêntes que escapam ao seu controlo e à razão e que estão por trás de muitas das suas decisões e dos seus comportamentos; e, finalmente, a 4ª Revolução, é da Inteligência Artificial, de que se vem falando há muito mas que está a arrancar em força neste princípio do século XXI e que estará em todo o lado, plenamente funcional, dentro de 50 anos. Agora o Homem já não é o ser mais inteligente e capaz, ver-se-à em breve destituído do Ccentro da Razão pelas máquinas. As 4 Revoluções, portanto, são todas, segundo Floridi, sobre a perda de importância do Homem no seu próprio mundo.














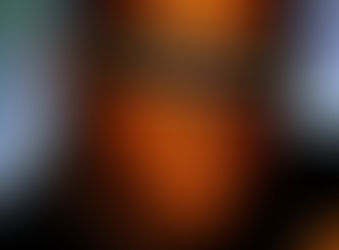




















Comentários